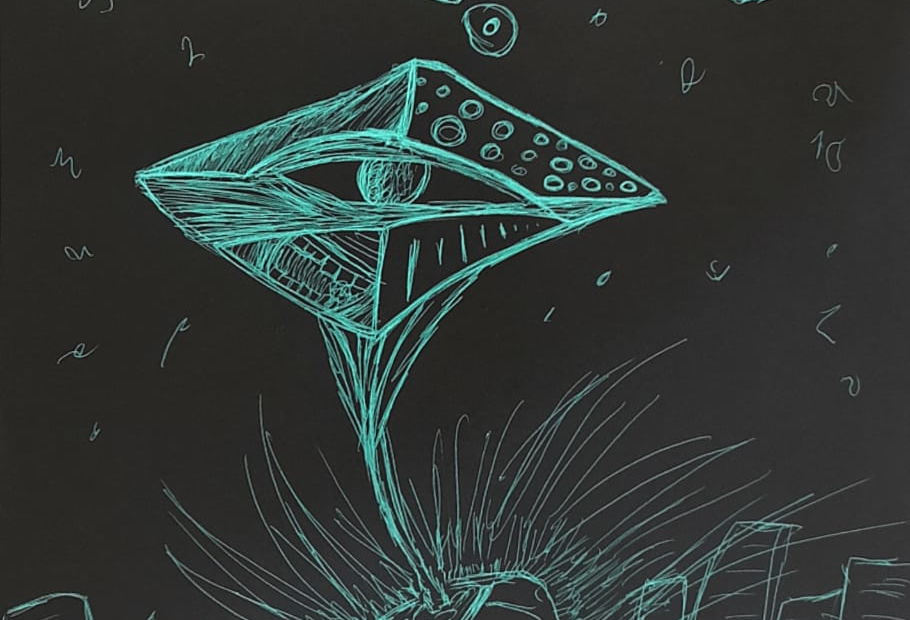Publicado na Folha de São Paulo 12 de outubro de 1997
Quando os americanos, após montarem seu sistema de ensino universitário, começaram a querer fazer filosofia mais empenhadamente e, com o pragmatismo, botaram suas cabeças no cenário internacional, a reação contra eles não foi pequena.
Entre o começo do século 20 e os anos 40, figuras imponentes como o inglês Bertrand Russell e o alemão Max Horkheimer, não deixando por menos, dedicaram páginas violentas contra o pragmatismo. O incômodo maior dizia respeito à discussão sobre a verdade. Horkheimer rejeitou a doutrina pragmatista da verdade na medida em que entendia que esta sustentava a tese de que as nossas expectativas se realizam e nossas ações são bem-sucedidas não porque nossas idéias são verdadeiras, mas, ao contrário, que nossas idéias são verdadeiras porque nossas expectativas se cumprem e nossas ações têm sucesso. Durante muito tempo batalhões de estudantes de filosofia aprenderam que isso resumia a doutrina pragmatista.
Mas, se vamos aos pioneiros, por exemplo, a William James, vemos que a doutrina pragmatista da verdade é outra coisa. Tentando uma formulação breve, ele afirmou que “±’o verdadeiro’ (…) é somente o expediente no processo de nosso pensamento, do mesmo modo que ‘o direito’ é somente o expediente no processo de nosso comportamento”. Se levarmos a palavra “expediente” a sério, podemos ver James como quem está dizendo que “o verdadeiro” é o que utilizamos quando solucionamos problemas no curso do nosso pensamento, de maneira análoga que “o direito” é o que utilizamos quando decidimos por uma ação em detrimento de outra. Podemos então ler James não como alguém que fala da essência da verdade, mas como alguém que procura descrever o que acontece quando utilizamos a expressão “é verdadeiro”.
Este tipo de atitude é decorrente do que Richard Rorty chama de postura antiesssencialista do pragmatista. O antiessencialista não vê sentido em falar da natureza ou da essência da verdade. O que faz com qualquer coisa, inclusive com “a verdade”, é colocá-la em relação com uma outra, pois é assim que ele pode dizer algo interessante sobre as coisas e é isso que é conhecimento para ele. Trata-se de uma característica do pragmatismo e do neopragmatismo: o contextualismo ou holismo, não achando que há “essência”, o pragmatista também não pode achar que há “aparência”, e, então, livra-se desta e de outras dualidades, herdeiras do pensamento metafísico, como objetivo-subjetivo, ciência-ideologia, fato-valor etc.
Talvez tenha sido esta postura independente, que o pragmatismo levou adiante tentando percorrer um caminho concomitantemente distante da metafísica e do positivismo, que tenha irritado muitos dos mais respeitados filósofos e intelectuais da primeira metade do século 20. Mas hoje em dia as coisas estão mudando rapidamente. Filósofos atuais consagrados, como o francês Jacques Derrida e o alemão Jürgen Habermas, não fazem um juízo negativo do pensamento norte-americano e, reciprocamente, encontram em boa parte do público universitário dos Estados Unidos uma grande atenção e uma postura bastante receptiva.
Assim, Putnam e Rorty concordam que a nova Escola de Frankfurt, com Habermas e outros, segue uma inspiração análoga à do fundador do pragmatismo, C.S. Peirce. Só que, enquanto ambos elogiam a postura de Habermas como defensor das formas ocidentais e modernas de democracia liberal associada a profundas preocupações sociais, discordam entre si quanto a avaliação que fazem da sua doutrina da verdade. Peirce via a verdade como algo a ser alcançado em um “fim ideal da investigação”, algo que lembra Habermas, que a vê como algo dependente de uma “comunidade idealmente livre”. Por esta postura, ambos merecem a aprovação de Putnam. No entanto, discordando de Peirce, de Habermas e de Putnam, Rorty forja uma argumentação original.
Entendendo que, no que se refere a crenças, a avaliação da verdade e a avaliação da justificação são a mesma atividade, Rorty advoga a idéia de que não nos é permitido excluir a possibilidade de que possa existir, ou possa a vir existir, uma audiência melhor, para a qual uma crença que é justificável para nós não seria justificável. Ele não aceita algo como “uma ‘audiência ideal’ prévia, cuja justificação seria suficiente para assegurar a verdade, alguma mais do que uma instância negativa”. Pois sempre se poderia pensar “em uma audiência comparativamente melhor informada, e também em uma mais imaginativa”. Assim, ele diz, havendo limites de justificação, “estes seriam limites da linguagem, mas a linguagem (tal como a imaginação) não tem limites”.
Poder-se-ia ver aqui em Rorty uma leve simpatia pelo ceticismo de Stanley Cavell. Diferentemente tanto dos céticos quanto dos pragmatistas pioneiros, ele não quer apenas abandonar a noção tradicional de verdade, a verdade como correspondência adequada entre e idéia e coisa ou entre linguagem e mundo, mas quer, mesmo, que chegue um tempo que descartemos de uma vez por todas a própria discussão sobre o tema. É como se ele estivesse, a todo momento, fazendo eco das palavras de Nietzsche ironizando Descartes: “Caro senhor’ (…) ‘é improvável que o senhor não esteja errado; mas por que sempre a verdade?”.
Nietzsche denunciou a obsessão pela verdade. Uma boa parte do pensamento americano atual gostaria de livrar-se dessa obsessão. Por quê? Talvez fique mais fácil entendermos isto lembrando o episódio histórico americano das bruxas de Salem (aliás, relatado em filme exibido no Brasil recentemente). Tal episódio nos mostra como, aproveitando-se do poder de determinar o definitivamente verdadeiro, as autoridades religiosas não só fizeram imperar a mentira como conduziram à morte muitos inocentes.
Em um país profundamente religioso, e no qual a religião e os setores conservadores ganham prerrogativas assustadoras dado seu poder de falar em nome da Verdade Absoluta, certos intelectuais -Dewey com seu experimentalismo, Rorty com seu sonho de superação da discussão da verdade e Stanley Cavell com o seu ceticismo- parecem estar impelidos ao cultivo de uma certa desconfiança da verdade na sua relação com a liberdade. Talvez fosse melhor que a liberdade se desvencilhasse da verdade, de modo a tornar-se uma liberdade baseada apenas no contínuo diálogo, na disputa política, no fazer histórico cotidiano, tudo isso em prol de uma sociedade de maior camaradagem, solidariedade e tolerância.